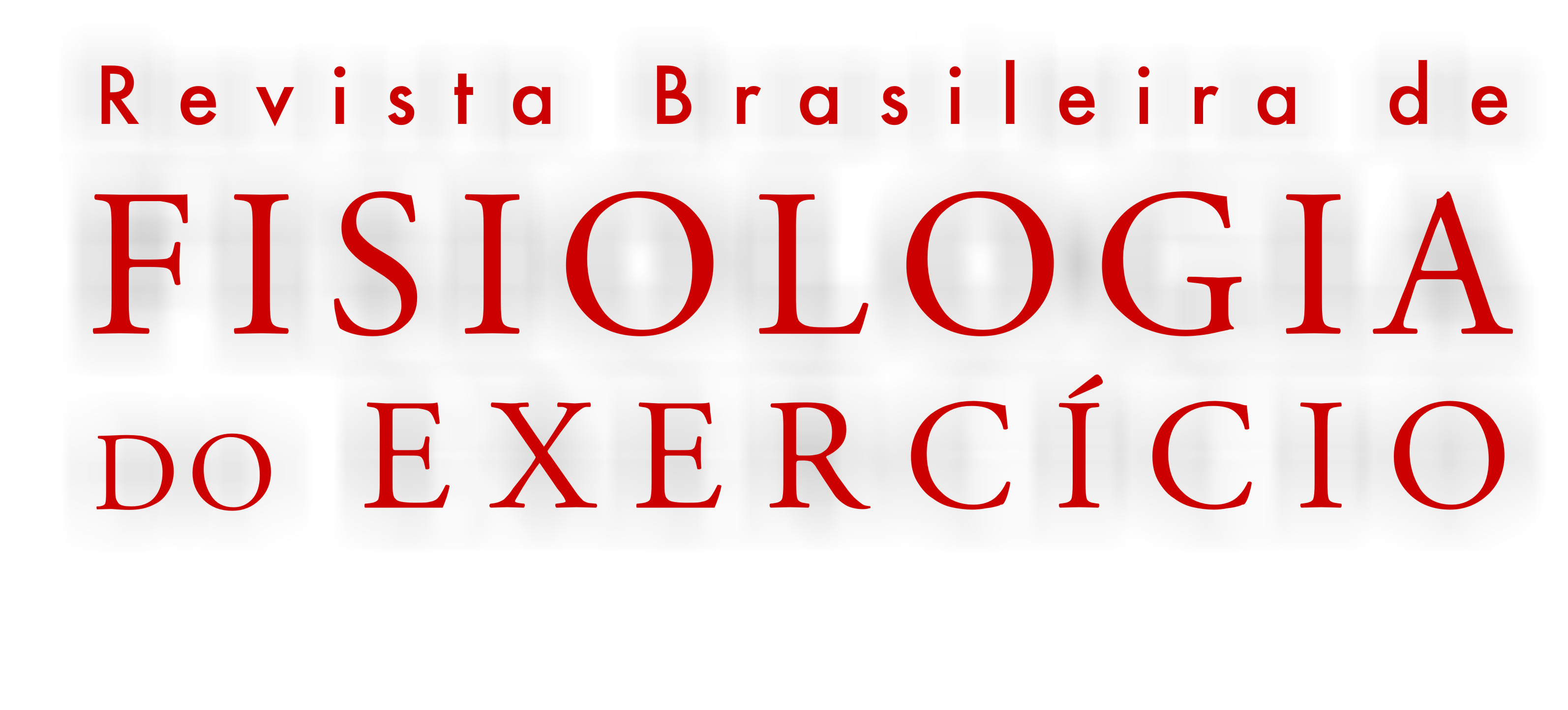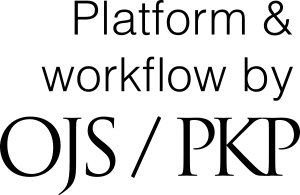Base em evidências ou preferências? Um guia para a assertividade na tomada de decisões
DOI:
https://doi.org/10.33233/rbfex.v19i5.4415Resumo
Um questionamento comum entre os consumidores de ciência na atualidade reside no fato que os pesquisadores estão publicando muito, e muito rápido. Para termos uma dimensão matemática, a cada nove anos a produção científica dobra seu tamanho. O número crescente de publicações em todas as áreas, em especial na área da saúde, aliado a facilidade de acesso a documentos científicos, permite aos atuais profissionais nortear sua prática em evidências, na expectativa de melhorar a qualidade de sua assistência. Tomar decisões, tendo o conhecimento científico como base para o raciocínio clínico, fornece ao profissional da saúde áurea de segurança e eficácia. Contudo, o consumo de um artigo científico pode ocultar muitas armadilhas que começam antes mesmo da leitura do documento. Os chamados vieses cognitivos são inerentes ao comportamento humano e influenciam diretamente na compreensão da literatura, distorcendo a realidade conceitual. Estes funcionam como um verniz para legitimar e fortalecer crenças pessoais do leitor, que passa a acreditar estar tomando a melhor decisão baseado na evidência científica. De fato, vários são os aspectos que podem prejudicar a interpretação e aplicação correta dos conceitos da Prática Baseada em Evidências. No entanto, a proposta deste documento é chamar atenção para alguns dos vieses cognitivos, a importância da leitura crítica e, ao final, apresentar um fluxograma que auxiliará o leitor na tomada de decisão da sua prática. O termo Viés Cognitivo foi cunhado pelos pesquisadores Amos Tversky e Daniel Kahneman pela primeira vez em 1972. Desde então, vários pesquisadores descreveram diferentes tipos de vieses que afetam a tomada de decisões em uma ampla gama de áreas do conhecimento, incluindo a saúde. Pode-mos exemplificar a tendenciosidade no comportamento humano usando como arquétipo um sujeito que, em posse de um recurso (equipamento, técnica, método ou fármaco), observou uma resposta positiva em dois ou três sujeitos submetidos a sua intervenção. O sentimento positivo em relação à intervenção (viés de afinidade) o fará acreditar que a mudança do desfecho tem como causa principal a intervenção aplicada. Ao ser contestado sobre a veracidade de sua intervenção, esse profissional tende a buscar “evidências” que, geralmente, são apoiadas em: pessoas que já foram submetidas a intervenção e tiveram benefício; e a busca por literatura científica que, muitas vezes, acontece de maneira seletiva (viés de seleção da literatura) na intenção de validar a sua crença (viés de confirmação). Essa ilustração nos traz pontos fundamentais para compreensão do real significado do pensamento científico. É necessário assumir que, como profissionais, nós temos preferências e que elas podem turvar o nosso julgamento, sendo este reconhe-cimento e tentativa de imparcialidade o início para a aceitação mais adequada da evidência científica. Em segundo plano, é preciso compreender que estes mesmos vieses também estão presentes nos autores das pesquisas. Portanto, propositalmente ou não, a escrita científica carrega em maior ou menor grau as preferências do autor. Cabe ao leitor identificar quais ideias são ou não suportadas por dados contundentes. No exemplo supracitado, a ausência de um grupo controle nos impede de mensurar o benefício de forma objetiva. Nessa situação, a avaliação de um desfecho subjetivo, como a qualidade de vida, pode originar resultado falso-positivo por efeito placebo. Outras medidas podem ocorrer em função do tempo. Por estas razões, as observações da prática clínica estão sujeitas a maiores riscos de viés e interpretação, já que se trata de um ambiente não controlado. Ainda sobre os vieses da compreensão humana, uma busca por resultados positivos para uma intervenção específica reduz o número de possibilidades de tratamento e prejudicam o aceptor final do sistema de saúde, o nosso paciente. Na seara da literatura científica também é possível identificar dados que justifiquem pensamentos dicotômicos. Neste ponto, é necessário ressaltar a importância de compreender e diferenciar cada desenho de estudo, o tipo de inferência permitido e a análise dos vieses presentes na pesquisa, que nos permitirão confiar ou não no resultado, principalmente quando existe uma resposta positiva para a intervenção. As falhas nas comparações entre as evidências podem levar à escolha de condutas equivocadas (não comprovadas por resultados substanciados) e influenciadas por um viés de afinidade. Sobre a comprovação de resultados, cabe um alerta especial: a significância de um resultado pode se mostrar do ponto de vista estatístico e clínico. No primeiro caso, deve-se estar atento ao teste estatístico aplicado, a natureza das comparações e a presença de grupos comparáveis no início de um estudo de intervenção, quando possível. A aplicação do teste estatístico, a montagem do cálculo amostral e a mudança na variável preditora de desfecho podem ser utilizadas para alcançar um resultado estatisticamente significante que, infelizmente, ainda é o resultado mais aceito em revistas científicas, e atuam contra o pensamento científico de qualidade. Mesmo na presença de constatações estatísticas, precisamos refletir sobre a importância clínica desse achado. Vamos imaginar a condução de um estudo com aplicação de um protocolo de exercícios objetivando uma resposta sobre a pressão arterial sistólica (PAS) de homens hipertensos. Os dois grupos de hipertensos apresentam PAS de 170 mmHg no início do estudo e verificamos que o grupo intervenção e o grupo controle apresentaram após 3 meses PAS iguais a 168 mmHg e 169 mmHg, respectivamente. Ao verificarmos esses dados, seguidos de uma afirmação estatisticamente significante (p < 0,05) para o grupo intervenção, precisamos nos questionar se esta avaliação foi feita em relação à condição inicial e final de cada grupo isoladamente (análise intragrupo), comparação apenas entre os valores finais dos dois grupos ou pela comparação entre as variações (inicial-final) dos dois grupos. Passada essa etapa, devemos analisar os números com cuidado e nos perguntar: Será que a diferença de 1mmHg a favor do grupo intervenção justifica a aplicação da conduta?
Ainda que exista comprovação estatística e, considerando um cenário onde a PAS do grupo controle se mantém em 170 mmHg, uma diferença de 2 mmHg a favor da intervenção é uma resposta com implicação clínica tão importante ao ponto de reduzir o risco de eventos adversos? Ao compará-lo com outras estratégias, o benefício ainda é preponderante ao ponto de viabilizar sua utilização como primeira linha de conduta? O profissional da saúde deve pautar suas decisões de forma racional, utilizando corretamente o arsenal disponível na literatura, tendo como base os princípios da compreensão científica, principalmente, mantendo a hipótese nula como ponto de partida. Na figura 1 esquematizamos como o pensamento pode ser conduzido antes da tomada de uma decisão. Reforçamos que a confiança empregada em trabalhos científicos não deve ocorrer simplesmente pelo desenho de estudo, nem os invalidar por pequenas falhas, mas aumentar ou reduzir o nível de confiança sobre as respostas que nos afastem da hipótese nula. Convidamos o leitor a se aprofundar na investigação dos riscos de viés cognitivo, questionar-se sobre suas preferências, optando sempre por uma avaliação e tomada de decisões mais isenta possível e à luz da ciência. Importante atentar que o racional fisiológico e a experiência prática sempre serão ferramentas importantes para a compreensão e questionamento dos mecanismos encontrados nas evidências, ou mesmo, para o direcionamento na busca por novas alternativas na ausência de evidências diretas, portanto, não devem ser olvidados. A perfeita decisão clínica se fundamenta no imbricamento entre essas duas visões e estabelece o estado da arte do tratamento em saúde.
Referências
Bornmann L, Mutz, R. Growth rates of modern science: a bibliometric analysis based on the number of publications and cited references. J Assoc Inf Sci Technol 2015;66:2215-22. doi: 10.1002/asi.23329
Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn´´´´ t. BMJ 1996;312(7023):71-72.
Kahneman D, Tversky A. Subjective probability: A judgment of representativeness. Cogn Psychol 1972;3(3):430-54.
Larsen PO, von Ins M. The rate of growth in scientific publication and the decline in coverage provided by Science Citation Index. Scientometrics 2010;84(3):575-603. https://10.1007/s11192-010-0202-z.
Tversky A, Kahneman D. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science 1974;185(4157):1124131. doi: 10.1126/science.185.4157.1124
Burns PB, Rohrich RJ, Chung KC. The levels of evidence and their role in evidence-based medicine. Plast Reconstr Surg 2011;128(1):305-10. doi: 10.1097/PRS.0b013e318219c171
Ranganathan P, Pramesh CS, Buyse M. Common pitfalls in statistical analysis: Clinical versus statistical significance. Perspect Clin Res 2015;6(3):169-70. doi: 10.4103/2229-3485.159943
Petto J, Oliveira IM, Oliveira AM, Sacramento MS. Safe and effective praxis without scientific evidence: is it possible? Rev Bras Fisiol Exerc 2020;19(3):178-9. doi: 10.33233/rbfe.v19i3.4211
Downloads
Publicado
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2021 Marvyn de Santana do Sacramento, João Victor Luz de Sousa, Antônio Marcos Andrade, Jefferson Petto

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos: Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista; Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista; Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).